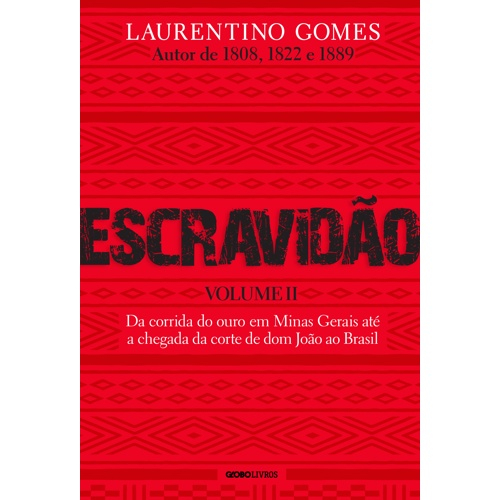Nova York/EUA – Sete vezes ganhador do Prêmio Jabuti, o jornalista e escritor Laurentino Gomes, lança o segundo volume da trilogia sobre a Escravidão no Brasil.
O livro, que chegou às lojas na semana passada, é editado pela Globo Livros. Trata-se da sequência do primeiro livro, apresentado na Bienal do Rio de Janeiro.
Escravidão – Da corrida do ouro em Minas Gerais até a chegada da corte de Dom João ao Brasil – concentra-se no século XVIII, auge do tráfico negreiro no Atlântico, motivado pela descoberta das minas de ouro e diamantes em território brasileiro e pela disseminação, em outras regiões da América, do cultivo de cana-de-açúcar, arroz, tabaco, algodão e outras lavouras e atividades de uso intensivo de mão-de-obra africana escravizada.
É também um período marcado por importantes rupturas e transformações ocorridas no universo dos brancos, como a independência dos Estados Unidos, a Conjuração Mineira, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e o nascimento do abolicionismo na Inglaterra.
Na entrevista ao correspondente de Afropress, em Nova York, Edson Cadette, o escritor afirma que “o assunto mais importante da nossa história não são os ciclos econômicos, as revoluções, o império ou a monarquia. É a escravidão”.
Segundo ele, apesar de a escravidão oficialmente ter acabado no 13 de Maio de 1888, com a Lei Áurea, “o seu legado ainda está vivo entre nós e pode ser observado na paisagem e nos números”.
“Basta observar quem mora nas periferias insalubres, perigosas, dominadas pelo crime organizado, pelo tráfico de drogas, sem qualquer assistência do Estado brasileiro”, acrescentou.
Confira, na íntegra, a entrevista.
AFROPRESS – O Brasil tem uma enorme dificuldade em debater este tema, diferentemente dos Estados Unidos onde ele está na pauta diária das discussões sobre a formação da América. Na sua visão, por que o Brasil ainda reluta em colocar os temas em discussão nacional?
LAURENTINO GOMES – A escravidão e o seu legado têm se tornado um assunto cada vez mais importante no Brasil, mas até recentemente, eram ignorados quase que por completo nos currículos escolares e livros didáticos.
E, não por acaso, nunca tivemos um grande museu nacional da escravidão e da cultura negra. Museus, como se sabe, não são apenas lugares de passeio e entretenimento. São locais de estudo e reflexão.
Não ter um museu com esse perfil é, portanto, parte desse projeto nacional de esquecimento. Acho que, oculto sob esse aparente desinteresse, existe um projeto nacional de esquecimento. O Brasil, maior território escravagista do hemisfério ocidental, abandonou os ex-escravos e seus descendentes à própria sorte depois da Lei Áurea. Nunca se preocupou em lhes dar terra, trabalho, educação e oportunidades. Abandonou também a própria memória da escravidão. Rediscutir nossa identidade nacional, o que inclui um reconhecimento da importância e do legado da escravidão, é um dos nossos desafios mais urgentes. A ideologia racista, usada no passado para justificar o tráfico negreiro, permanece ainda hoje oculta nas formas preconceituosas de relacionamentos entre brancos e negros. No meu entender, só a persistência de uma ideologia racista, que recusa oportunidades a todos os brasileiros, independentemente da cor da pele, explica essas diferenças.

Ou seja, o verdadeiro racismo não se expressa apenas com palavras e atitudes ofensivas, que a lei proíbe, mas na recusa em dar oportunidades às pessoas negras ou afrodescendentes de se realizarem plenamente como seres humanos. Esse é o famoso racismo estrutural, enfronhado na nossa maneira de ser, de agir e de pensar.
AFROPRESS – Quando você começou a pesquisar sobre a instituição da escravidão brasileira e sua influência na construção do país, o que mais chamou sua atenção?
LG – Eu me surpreendi muito ao constatar o quanto a escravidão se tornara corriqueira e banal no Brasil do século XVIII.
A ponto de abrir o texto de introdução deste segundo volume descrevendo um objeto hoje existente no Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte.
É uma balança de pesar escravos, usada para definir o valor de seres humanos antes de leilões de praça pública, da mesma forma como, na época, se usavam balanças para pesar bois, porcos, galinhos, queijos, sacos de farinha de trigo, de feijão e de arroz.
Por volta de 1750, negros escravizados eram vistos numa sucessão ininterrupta de colônias europeias que se desdobravam do Canadá até o sul da Argentina e do Chile atuais.
Minas Gerais tinha a maior concentração de pessoas negras de todo o continente americano. Os brancos formavam uma minoria relativamente insignificante. Leilões em praça pública para a venda de pessoas no atacado e no varejo se tornaram cenas habituais, especialmente nos três principais portos de entrada dos navios negreiros – Recife, Salvador e Rio de Janeiro.
Nessas ocasiões, homens e mulheres eram lavados, depilados, esfregados com sabão, untados com óleo de coco ou dendê, pesados, medidos, examinados e apalpados em suas partes íntimas, obrigados a correr, pular e exibir a língua e os dentes.
Ao término desse metódico ritual, vendedores e compradores acertavam o preço de acordo com a idade, o sexo e o vigor físico dos cativos que, em seguida, eram marcados a ferro quente com as iniciais da fazenda ou do nome do seu novo proprietário.
AFROPRESS– Qual foi sua maior dificuldade em escrever sobre este tema e por quê?
LG – Um grande desafio nas pesquisas diz respeito a duas visões hoje já ultrapassadas a respeito do comportamento do escravo dentro do sistema escravista.
A primeira, celebrizada por Gilberto Freyre, é a do negro passivo e apático, bem adaptado ao mundo dos brancos e vivendo sob as ordens da casa senhorial e relativamente benévola, incapaz de reagir, protestar ou se rebelar.
A segunda visão anacrônica, nascida das ideias e lutas marxistas do século XX é a do negro em permanente estado de rebelião, constantemente planejando ações para se livrar do cativeiro, entender o papel do homem e da mulher escravizado no sistema escravista.
Pesquisas recentes têm levado a um entendimento mais complexo e diversificado do escravismo, marcado por nuances até pouco tempo atrás ignoradas ou subestimadas, nas quais os cativos se envolviam em processos contínuos e sutis de negociação e barganha, sempre testando os limites do sistema escravista em busca de ampliar seus espaços e oportunidades.
Pela nova interpretação, os escravos aparecem como agentes de seu próprio destino, negociando espaços dentro da sociedade escravista, organizando irmandades religiosas, formando um sistema complexo de apadrinhamento, parentesco e alianças que muitas vezes incluíam participar de milícias ou bandos armados para defender os interesses do senhor contra os de um vizinho ou fazendeiro rival.

Pequenas faltas, fugas rápidas, corpo mole no trabalho, malfeito ou inacabado, fingir não dominar a língua ou as ordens, eram todas formas de resistência que não necessariamente incluíam o enfrentamento direto, como observou a historiadora Maria Helena Pereira Toledo Machado.
Os escravos lutavam por coisas concretas, como o direito de constituir e manter famílias, cultivar suas próprias hortas e pomares e vender seus produtos nas feiras livres, dançar ao som do batuque nas horas de folga e praticar seus cultos religiosos. O que nem sempre implicava em fugir, se rebelar ou pegar em armas.
AFROPRESS – O que os leitores irão aprender sobre o Brasil e sua relação com a escravidão lendo seu livro?
LG – Um tema importante neste segundo volume da trilogia são as enormes contribuições dos africanos para a construção do Brasil.
Elas podem ser exemplificadas pela história de um homem anônimo, negro ou mestiço, descendente de africanos escravizados, que teria sido o responsável pela descoberta de ouro em Minas Gerais no final do século XVII.
Infelizmente, sabe-se muito pouco a seu respeito. O único registro que dele sobrou está nesta passagem do livro Cultura e Opulência do Brasil pelas suas drogas e minas, do padre jesuíta André João Antonil.
Ele é também um exemplo do apagamento da memória negra e africana no Brasil. Até recentemente, uma historiografia ufanista atribuía quase que exclusivamente aos bandeirantes, todos homens supostamente brancos, a façanha pela descoberta de ouro e diamantes e a consequente ocupação do território brasileiro na primeira metade do século XVIII. Isso é parcialmente verdadeiro.
Embora relegados ao segundo plano nos museus, livros e salas de aula, negros e mestiços foram, muitas vezes, protagonistas, em vez de atores secundários, nos grandes acontecimentos da história do Brasil.
O tráfico negreiro era menos aleatório e irracional do que se imagina. Ao contrário do que, por muito tempo, sustentou a versão preconceituosa e excludente do colonizador, os africanos escravizados que chegavam à América não eram uma massa informe de mão-de-obra cativa ignorante, selvagem, bárbara, despreparada para os desafios impostos pelas diferentes atividades econômicas desenvolvidas pelos europeus no Novo Mundo.
Novos estudos têm demonstrado o oposto disso. Os africanos escravizados não eram apenas commodities, mercadorias como outras quaisquer, cujo valor e preço dependessem somente do vigor físico ou da força dos músculos definidos pelo sexo, pela idade e pelas condições de saúde.
Além de seres humanos acorrentados e marcados a ferro quente, os navios negreiros transportavam em seus porões conhecimentos e habilidades tecnológicas da África que seriam cruciais na ocupação europeia do continente americano. Uma dessas tecnologias era justamente a mineração de ouro e diamantes em Minas Gerais.
AFROPRESS – Qual a comparação que pode ser feita entre sua trilogia sobre a escravidão e seus livros anteriores, 1808, 1822, e 1889?
LG – Na minha primeira trilogia, eu tinha me dedicado a estudar três datas importantes para a construção do Brasil de hoje: 1808, 1822 e 1889, ou seja, os três momentos fundamentais para a construção do nosso país como nação independente no século 19.
Essas datas ajudam a explicar a maneira como nos constituímos do ponto de vista legal, institucional e burocrático. Porém, para entender os aspectos mais profundos da nossa identidade nacional, é preciso ir além da superfície, observar o que fizemos os nossos índios e negros, quem teve acesso às oportunidades e privilégios ao longo da nossa história e como a sociedade e a cultura brasileiras foram se moldando desde a chegada de Pedro Álvares Cabral na Bahia até os dias de hoje.
Ao fazer isso, eu me dei conta de que o assunto mais importante da nossa história não são os ciclos econômicos, as revoluções, o império ou a monarquia. É a escravidão. O trabalho cativo deu o alicerce para a colonização portuguesa na América e a ocupação do imenso território.
Também moldou a maneira como nos relacionamos uns com os outros ainda hoje. Neste início de século XXI, temos uma sociedade rica do ponto de vista cultural, diversificada e multifacetada, mas também marcada por grande desigualdade social e manifestação quase diárias de preconceito racial.
Isso, no meu entender, é ainda herança da escravidão. Escrever sobre a escravidão foi, portanto, uma decorrência natural da minha primeira trilogia de livros.
AFROPRESS – Por décadas, historiadores difundiram a ideia de que a escravidão brasileira era menos cruel do que em outros países que usavam a mão de obra escrava. Essa ideia ainda se sustenta hoje?
LG – Esse é um mito que, felizmente, já foi superado. A vida no cativeiro no Brasil foi tão cruel e violenta como em qualquer outro território escravista da América.
A escravidão é, por natureza, um processo violento, repleto de dor e sofrimento. A quebra da identidade e dos direitos dos escravizados era toda baseada na violência.
Na África e na chegada às Américas, as pessoas eram capturadas, estocadas, marcadas a ferro quente e leiloadas como se fossem mercadoria.
A fase inicial da vida do escravo no Brasil e no restante das Américas era a mais difícil, repleta de provações. O escravo passava a não ter vontade própria. Sua nova existência dependeria por completo do poder do seu dono.
O simbolismo dessa nova identidade estaria nos rituais que em geral acompanhavam os processos de escravização, como marcas feitas a ferro quente no corpo do cativo, o uso de colares e pulseiras metálicas indicando quem eram seus donos, o batismo em nova religião, o aprendizado de uma nova língua e de uma nova maneira de se vestir e se comportar e, por fim, a atribuição de um novo nome.
Nas ilhas do Caribe, os ingleses diziam que esse era o momento de “temperar” (seasoning, em inglês) o cativo, ou seja, mostrar a ele quem, de fato, mandava, quem era o dono e senhor do seu destino.
Isso envolvia uma série de torturas, físicas e psicológicas, até que o escravo se “colocasse em seu lugar” – ou seja, o mesmo ocupado por animais domésticos e de trabalho.
Segundo o padre jesuíta Manuel Ribeiro da Rocha, que foi missionário na Bahia em meados do século 18, durante essa etapa, muitos senhores de engenho do Recôncavo Baiano tinham o hábito deliberado de surrar os cativos. Era a primeira providência que tomavam depois da compra dos africanos.
AFROPRESS – Qual é o legado que a escravidão tem na história brasileira?
LG – Oficialmente, a escravidão no Brasil acabou com a Lei Áurea, de Treze de Maio de 1888, mas o seu legado ainda está vivo entre nós e pode ser observado na paisagem e nos números.
Somos um dos países mais segregados do mundo, na geografia e nas estatísticas. Basta observar quem mora nas periferias insalubres, perigosas, dominadas pelo crime organizado, pelo tráfico de drogas, sem qualquer assistência do Estado brasileiro.
Na maioria, são pessoas afrodescendentes. Enquanto isso, os chamados “bairros nobres”, com boa qualidade de vida, segurança, serviços públicos e educação de qualidade, são habitados por pessoas descendentes de colonizadores europeus brancos.
O preconceito é uma das marcas das nossas relações sociais no Brasil, embora sempre procuremos disfarçá-lo com os mitos de que seríamos uma grande e exemplar ‘democracia racial’ e que a escravidão entre nós teria sido mais branca, patriarcal e tolerante do que eu outros territórios da América.
Tudo isso é ilusório e desmentido pelas estatísticas, que mostram um fosso enorme de desigualdade entre negros e brancos no país em todos os itens analisados.
Os descendentes de africanos ganham menos, moram em lugares mais insalubres, estão mais expostos aos efeitos da violência e da criminalidade e tem oportunidades em todas as áreas, incluindo emprego, saúde, educação, segurança, saneamento, moradia e acesso aos postos da administração pública. Esse é um legado da escravidão, mal resolvido no passado e que ainda hoje tentamos negar.
AFROPRESS – Depois De escrever o primeiro e o segundo livro, na sua visão e possível afirmar que o Brasil tem sim uma enorme dívida com a população dos descendentes dos escravizados? E como esta dívida pode ser paga e em que forma?
LG – Acho que a melhor maneira de enfrentar a herança da escravidão é pela educação, pela leitura e, em particular, pelo estudo da história.
Precisamos entender e refletir sobre o que aconteceu. Ainda precisamos enfrentar de forma corajosa e decisiva o problema da desigualdade social e da violência decorrente do racismo e no Brasil.
Também por isso eu sou a favor dos programas de cotas preferenciais para afrodescendentes por duas razões.
A primeira é que essa política vem dando resultados concretos. As estatísticas mostram um aumento no número de negros ou mestiços entre os mestres e doutores nas universidades e também em cargos mais qualificados da administração pública e da iniciativa privada.
Ainda que lentamente, estamos abrindo espaços para essa parcela da população que, no passado, sempre esteve sub-representada.
A segunda razão é que, mesmo sendo polêmica, a política de cotas demonstra que o Brasil da democracia, pela primeira vez, topa o desafio de enfrentar o legado da escravidão e corrigi-lo.
Isso nunca aconteceu antes. Um dos argumentos contrários à política de cotas, presente até em discursos de altas autoridades da república, tenta culpar os escravos pela própria escravidão.
Muita gente afirma que, se os africanos participaram e lucraram com a escravidão, não haveria razão para manter no Brasil, por exemplo, um sistema de cotas de inclusão dos afrodescendentes em escolas ou postos da administração pública.
A chamada “dívida social” brasileira em relação em relação aos descendentes de escravos estaria anulada pelo fato de os africanos serem corresponsáveis pelo regime escravista.
Desse modo, não haveria porque indenizá-los ou compensá-los pelos prejuízos sociais e históricos decorrentes disso.
Tudo isso é muito injusto porque, obviamente, não se pode culpar os escravos pela própria escravidão. O fato de chefes africanos terem participado do tráfico nada tem a ver com a enorme dívida social e real que o Brasil tem com os seus afrodescendentes.
Basta ver as estatísticas, onde a nossa população negra aparece como a parcela da sociedade com menos oportunidades e a que mais sofre com a desigualdade social crônica brasileira. Precisamos corrigir isso urgentemente. E não podemos nos esconder atrás de falsas e incorretas discussões a respeito de fatos históricos.

CRÉDITO: EDSON CADETTE é correspondente em Nova York e a postagem da entrevista com o jornalista e escritor Laurentino Gomes marca os 16 anos da Afropress, que comemoramos neste 29 de junho de 2021.