“Se não posso dançar, não é minha revolução” (Emma Goldman)
Por Láris Vasques*
Em 29 de janeiro celebra-se o Dia da Visibilidade Trans, data voltada à promoção de reflexões e debates em torno da cidadania de pessoas travestis, transexuais, transgêneras e não-binárias. Angustia-me que, para falar sobre essa pauta identitária que também é minha, eu tenha de dar foco e luz às velhas e hegemônicas narrativas que nos enclausuram entre toda sorte (ou azar) de violações e sofrimentos. Eu queria poder contar outra história. É aterrorizante que, para falar de mim e de nós, eu tenha de fazer vir à tona um perverso e cruel cenário, onde lê-se estampado nas manchetes de jornal que: “Brasil segue no primeiro lugar do ranking de assassinatos de pessoas Trans”, sobretudo de mulheres Trans e Travestis.
É lastimável que à frente da infinitude de possibilidades existenciais, nos encontremos representadxs, sobretudo, nas facetas da transfobia. É deplorável que, para falar de nossas existências, seja necessário apontar para sistemática violação que sofremos de nossos direitos mais fundamentais: como o de identidade, de autorreconhecimento, de ir e vir e, mais amplamente, o direito à vida. É deprimente identificar que, do muito que se possa pensar de sobre nós, sobressaltem-se as vulnerabilidades psicossociais que nos atravessam. É abominável reconhecer que as primeiras representações, sob as quais devemos ver aferradas nossas identidades, estejam tão imediatamente associadas à rejeição social, ao abandono familiar, à evasão escolar, às dificuldades de inserção no mercado de trabalho e tantas outras atrocidades. Essa parece ser a forma pré-fabricada sob a qual somos obrigadxs a contar sobre nós, as vias privilegiadas de nossa subjetivação.
Parece haver um certo ordenamento subjetivo, promovido por múltiplas vozes institucionalizadas, que nos atravessa. Refiro-me à incidência de narrativas sobre “o que ou quem somos” que competem no processo de autoelaboração de nossas próprias identidades, a forma como nos constituímos enquanto sujeitos. Algumas vertentes religiosas fomentam uma ordem moral que condena nossa forma de existir, colocando-nos no abjeto lugar de seres abomináveis. Na maior parte da história, a tradição jurídica manteve-se conivente com a perpetuação de inúmeras violações, ademais de há muito tempo negar-nos direitos civis básicos. A medicina, a psiquiatria, a psicologia e outras vertentes do saber científico, enclausurando-nos na ordem do que é psicopatológico, foram e ainda são responsáveis por difundir um processo de exclusão social. O modo como nossas pautas são representadas ou invisibilizadas pela mídia também se insere nessa ampla e sistemática produção de uma alteridade abjeta. Um exemplo que concerne ao atual governo expressa tudo isso de maneira inequívoca: a perseguição que se instituiu nos meios educacionais sob a dita pauta da “ideologia de gênero”. Não há como negar o componente transfóbico por detrás da ideia de que “não podemos deixar que transformem nossos meninos em meninas e vice-versa”.
Há um elemento comum que sustenta o conjunto de narrativas supracitadas: operam como se a designação do sexo biológico no nascimento carregasse algum determinismo intrínseco, ignorando a eficácia da produção simbólica de nossos discursos. A narrativa de que “homens não choram” é discursiva e não evidência cromossômica ou gonadal. Nem sempre rosa foi de menina e azul de menino[1]. Quem à isto não se atenta, ignora um processo sócio-histórico-cultural fundamental para compreensão de como o ser humano se desenvolve em seu meio.
Na primeira vez que ouvi falar sobre a transexualidade, já na época da faculdade, deparei-me com uma representação bastante limitada e reducionista que ainda observo como a mais popular: a ideia de que pessoas Trans sentem que nasceram no corpo errado, como se tivessem o cérebro de um sexo e o corpo de outro. Sei que, no tremendo esforço de tentar compreender a própria condição, muitas pessoas Trans veem-se identificadas com esse discurso “do corpo errado” e somente sob essa ótica conseguem acessar o processo de transição. Pessoas cisgêneras passam por inúmeras intervenções de transformação corporal – cirúrgicas, hormonais e estéticas, sem serem representadas sob a ideia de que nasceram no corpo errado. Nesse sentido, quero chamar atenção para o fato de que as narrativas que se produzem sobre ser Trans, inclusive as oriundas do modelo biomédico, são criações socioculturais que possuem efeitos performativos, ou seja, têm impacto sobre nós e sobre como reconfiguramos e redescrevemos nossas próprias experiências identitárias.
A invisibilização apaga nossas histórias e as possibilidades de que sejamos sujeitxs na história. Aos profissionais de saúde mental e à população geral (cis) recomendo que busquem aprender o que é ser “Trans” à partir de nossas própria narrativas. Quando clamamos por visibilidade, este é um sinal óbvio de que nossas demandas, individuais e coletivas, têm pouco ou quase nenhum espaço no jogo político. Lutamos e resistimos para que nossas vozes ecoem, para que nossas violações sejam vistas. O dia da visibilidade Trans deve ser celebrado como uma via para que busquemos protagonizar a nossa história. Em meio a tantas dinâmicas de opressão e privilégio, faço uso deste espaço para, num essencialismo estratégico, ser apenas mais um eco em meio a tantas vozes silenciadas.
No meu primeiro dia da Visibilidade Trans enquanto pessoa Trans, queria poder contar outra história, uma que não recorresse à vergonha, humilhação e desumanidade das tantas narrativas opressoras que já se produziram sobre nós. Queria contar uma coisa que parece boba, pequena: dia desses, pela primeira vez verdadeiramente em posse de mim, dancei e gostei. No meu primeiro dia da Visibilidade Trans, queria poder dar Visibilidade à sutil beleza que nos faz estar aqui, (r)existir. Sei que a potência do processo que nos faz surgir é imensamente maior do que aquele que nos faz insurgir. Temos toda razão para insurgência, é de nossa natureza fazer mais que apenas existir, nós surgimos. Entre nosso nascimento e morte, nossa vida e nosso existir, emerge um surgimento. Transicionar é surgir. Enquanto houver o existir, continuaremos surgindo, ainda que o que nos reste seja tão somente a insurgência. Viva a resistência Trans!
Láris Vasques – Trans, Psicóloge, Doutorande em Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília (UnB), Militante Petista e membro da Comissão LGBTQI+ do Conselho Regional de Psicologia (CRP/01).
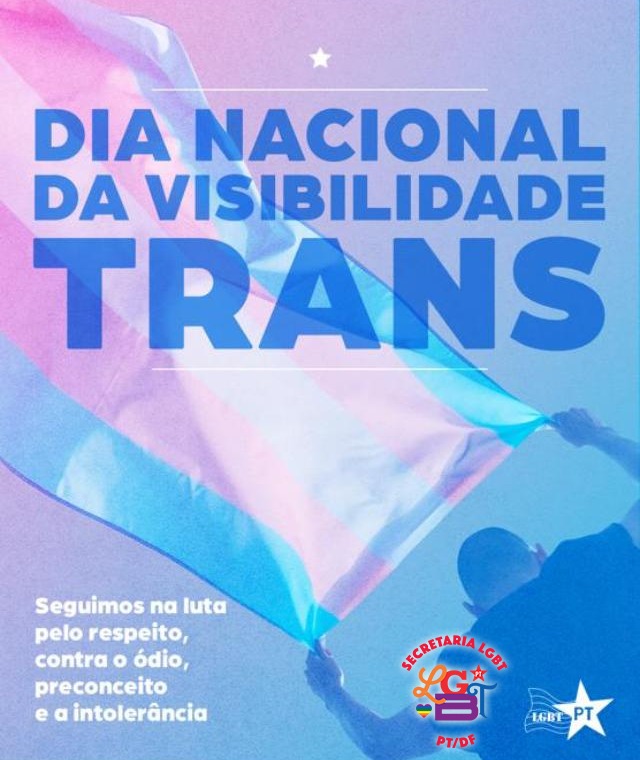









+ There are no comments
Add yours